“A subordinação das mulheres e da natureza estão intimamente relacionadas e favorecem um desenvolvimento econômico destrutivo do ecossistema. Apenas um novo modelo econômico que categorize no mesmo nível o trabalho não remunerado e que facilite o desenvolvimento da economia de subsistência pode levar à sustentabilidade e deter a destruição do ecossistema que habitamos” – Mary Mellor em “Feminismo e ecologia. Ambiente e democracia”.
Basta olhar para as fotos oficiais das grandes cúpulas políticas ou ler a lista de questões debatidas por seus representantes, para ver que o mundo é governado principalmente por homens – preocupados em primeiro lugar com a economia, ou melhor, com uma maneira particular de entendê-la.Amaia Pérez Orozco aponta em Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (Subversão feminista da economia. Contribuições para um debate sobre o conflito capital-vida) (1) que a economia é uma construção histórica e social. No final do século 18 e início do século 19, escreve ela, impôs-se uma espécie de metodologia analítica da economia, conhecida como “neoclássica”, que hoje sustenta quase todo o discurso político dominante e a estrutura socioeconômica em que vivemos. A consolidação dessa hegemonia ideológica ocorreu paralelamente ao assentamento definitivo do sistema mundial capitalista que, desde sua origem, foi patriarcal (supremacia masculina), colonial e racista (dominação dos países desenvolvidos sobre os mais desfavorecidos, com a consequente primazia branca). A influência dessa ideologia nos mais altos níveis de poder é quase absoluta. Sua arquitetura conceitual prioriza o princípio da concorrência sobre o da colaboração; o consumismo exacerbado sobre o consumo e o intercâmbio responsáveis; e, segundo a lei da oferta e procura, determina as regras do mercado de trabalho, colocando o preço e o valor de troca à frente do valor de uso.
Esse tipo de economia defende a ideia de que a Terra é um espaço físico ilimitado de “livre” exploração de recursos e que, portanto, o desenvolvimento pode ser desconectado dos processos biofísicos, da nossa relação com a natureza ou da necessária interdependência entre diferentes espécies. Em outras palavras, esse modelo vira as costas para os limites do crescimento ou, de forma muito mais sutil, ele se coloca de lado, de perfil, uma vez que promove com retórica cínica o chamado capitalismo verde, que na realidade camufla, mais uma vez, o desenvolvimentismo incontrolado. Ele tenta incentivar a circulação de todos os tipos de produtos, sejam eles ou não essenciais ou necessários para uma vida digna, e insiste que o progresso supõe fazer crescer o dinheiro a qualquer preço.
Diante dessa concepção economicista do mundo – a ativista Yayo Herrero costuma chamá-la de “lógica biocida” –, o ecofeminismo, muito vinculado também às lutas indigenistas e antirracistas, denuncia que esse modelo androcêntrico foi imposto eliminando da equação econômica e de sua conta de resultados o trabalho invisibilizado de muitas mulheres e de outras vidas precarizadas. Esse modelo apropria-se, assim, de enormes doses de trabalho gratuito ou da exploração de outros corpos – principalmente de migrantes pobres –, que reproduzem a mão de obra a um custo mínimo. O próprio Karl Marx, que propôs a abolição de todas as formas de exploração, assumiu que o valor do trabalho era produzido exclusivamente pelo trabalhador, e não levou em conta outros elementos do processo produtivo, como a exploração exacerbada dos recursos naturais, o desenvolvimento ilimitado da tecnologia e, sobretudo, os trabalhos reprodutivos ligados ao cuidado realizados por mulheres excluídas do mercado de trabalho.
Silvia Federici explica isso muito bem em Calibán e a bruxa. Mulheres, corpos e acumulação primitiva (2), onde analisa criticamente a teoria marxista sobre o trabalho. Segundo ela, o trabalho reprodutivo e assistencial que as mulheres executam é uma das principais bases de sustentação do capitalismo, que se apropria dele, ao mesmo tempo em que o torna invisível, para, por meio de todas as suas facetas – corporal, sexual, cuidadora, educacional, cultural –, reproduzir a subjetividade e os laços sociais que permitem a continuidade do sistema. Citada por Paul B. Preciado em Um apartamento em Urano. Crônicas da travessia (3), Federici assinalou que o útero tem uma função central no processo de acumulação capitalista, por ser o lugar “em que é produzida e reproduzida a mercadoria capitalista mais essencial: a força de trabalho”.
Federici, indo mais longe em sua análise das teorias marxistas, acrescenta e salienta que a desapropriação dos meios de subsistência e da força de trabalho dos trabalhadores europeus esteve por sua vez intimamente ligada à escravidão e à exploração dos povos nativos da África e da América nas minas e plantações do Novo Mundo. Em outras palavras, a autora nos lembra que houve um processo de colonização e uso extremo dos recursos humanos, materiais e naturais das colônias, especialmente de mulheres negras e indígenas, que sofreram uma degradação social desumana que permaneceu assim desde então.
Não é nenhuma casualidade que o movimento ecofeminista internacional tenha como referência várias mulheres envolvidas em longas lutas anticoloniais: a indiana Vandana Shiva, fundadora do Navdaya, um movimento social feminino que visa proteger a diversidade e a integridade dos meios de subsistência, especialmente as sementes; a queniana Wangari Maathai, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, que criou o movimento Green Belt (Cinturão Verde); a historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, fundadora e principal promotora da Oficina de História Oral Andina; Tarcila Rivera Zea, fundadora do Fórum Internacional de Mulheres Indígenas; a colombiana Angélica Ortiz, líder indígena e secretária-geral da organização Wayúu Women's Force, que luta contra a mina de carvão El Cerrejón, no nordeste da Colômbia, uma das maiores minas abertas do mundo; a freira brasileira Ivone Gevara, uma clara expoente da Teologia da Libertação, que se caracteriza por seu interesse por mulheres pobres, pela defesa das mulheres indígenas, das vítimas da destruição da natureza e por sua crítica à discriminação contra as mulheres nas estruturas de autoridade religiosa; as guatemaltecas Rigoberta Menchú, Prêmio Nobel da Paz, por sua defesa dos povos indígenas, e Aura Lolita Chávez Ixcaquic, líder do Conselho dos Povos de K'iche pela defesa da vida, natureza, terra e território.

É impossível encerrar essas menções sem assinalar a vida truncada de inúmeras ativistas e ambientalistas indígenas, como Betty Cariño, defensora da soberania alimentar e do direito à autonomia dos povos indígenas no México, assassinada em 2010; ou da hondurenha Berta Cáceres, perseguida e assassinada em 2016. Em 2018, a organização internacional Global Witness documentou 164 assassinatos de defensores da terra e do meio ambiente (4). De acordo com outra pesquisa, realizada pela Universidade de Queensland (Austrália) em 2019, foram mais de 1550 entre 2002 e 2017.
Todas essas vozes defendem que a economia não deve lidar apenas com o dinheiro, mas também com outras necessidades humanas: o trabalho relacionado ao cuidado com as pessoas e outras espécies; e a proteção dos recursos naturais em um mundo responsavelmente interconectado e interdependente, como descreveu outro dos precursores do ambientalismo, Barry Commoner, em The Closing Circle (O círculo que se fecha), Knopf, 1971.
Nesse mesmo sentido, Mary Mellor, professora de Sociologia da Universidade Northumbria, em Newcastle, presidente do Instituto de Pesquisa de Cidades Sustentáveis e autora de Feminism and Ecology (Feminismo e ecologia, lançado em 1997), afirma: “A subordinação das mulheres e da natureza estão intimamente relacionadas e favorecem um desenvolvimento econômico destrutivo do ecossistema. Apenas um novo modelo econômico que categorize no mesmo nível o trabalho não remunerado e que facilite o desenvolvimento da economia de subsistência pode levar à sustentabilidade e deter a destruição do ecossistema que habitamos”. Segundo Mellor, aquilo que a economia neoclássica chama de “economia sem valor” deve ser integrado à cadeia de vida sustentável.
Embora seja verdade que grande parte da crítica feminista tem girado em torno do reconhecimento do trabalho das mulheres ou das condições específicas de exploração de suas funções assistenciais – tanto na esfera privada quanto na pública –, outras vozes, como a de Kathi Weeks, professora de Gênero, Sexualidade e Estudos Feministas na Universidade Duke, propõem um passo à frente, fazendo uma crítica radical à própria ética capitalista do trabalho. Weeks define o trabalho como o meio pelo qual as pessoas se integram não apenas ao sistema econômico, mas também a formas sociais, políticas e familiares de cooperação, tornando-se indivíduos disciplinados, sujeitos governáveis. Em seu livro The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (O problema com o trabalho: feminismo, marxismo, políticas antitrabalho e imaginários pós-trabalho) (5), a autora aponta que devemos considerar que o trabalho assalariado, inclusive o doméstico, continua sendo hoje a peça-chave dos sistemas econômicos capitalistas. É claro, acrescenta Weeks, que sabemos que o trabalho é a via de acesso da maioria das pessoas às necessidades de alimentos, vestuário e abrigo, mas também o meio básico pelo qual o status nos é atribuído. Não se trata de negar a necessidade de atividades produtivas nem de descartar a possibilidade de que, como William Morris descreveu, possa haver em todos os seres vivos “um prazer” no exercício de suas energias. Trata-se de insistir que há outras formas de organizar e distribuir a atividade e de nos lembrarmos que é possível ser criativo fora dos limites do trabalho. Weeks descreve as práticas subversivas que poderiam ser desenvolvidas em uma certa concepção feminista utópica como um lugar de resistência e contestação, para propor outros futuros de economia distributiva e igualitária que, em primeira instância, passariam por uma renda básica universal, com direitos sociais garantidos e uma semana de trabalho de 30 horas sem redução salarial. Dessa forma, seria possível iniciar o desenvolvimento de modelos alternativos de organização da vida. Para começar, seria muito importante, salienta a pesquisadora, exigirmos o cumprimento das leis vigentes sobre salários e horas de trabalho, especialmente para a vida dos trabalhadores de baixa renda. Weeks nos mostra que o projeto de construção de uma sociedade pós-capitalista é eminentemente feminista e também envolve a liberação do trabalho.
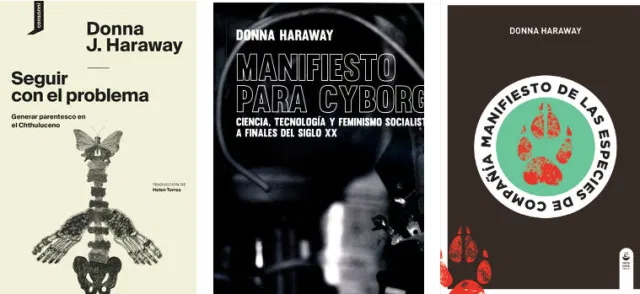
Donna J. Haraway vai ainda mais longe ao destacar o papel do feminismo e dos corpos reprodutivos na abordagem do aumento da população, que em pouco mais de um século dobrará. Em Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Continuar com o problema: gerando parentesco no Chthulucene) (6), essa famosa professora emérita da Universidade da Califórnia, autora do clássico Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo socialista no final do século 20 (1985) e do Manifesto das espécies companheiras (2003), lembra que as mulheres foram ao longo da história as únicas a insistirem no poder e no direito de cada mulher, jovem ou idosa, de escolher ter filhos ou filhas, observando que a maternidade não é necessariamente o fim ou o objetivo único das mulheres, e que a liberdade reprodutiva de uma mulher ultrapassa as exigências do patriarcado ou de qualquer outro sistema. Haraway também nos diz que as feministas antirracistas, anticolonialistas, anticapitalistas e pró-queer de todas as cores e todos os povos têm liderado movimentos pela saúde e direitos sexuais e reprodutivos, com especial atenção à violência de ordem sexual contra pessoas pobres e marginalizadas. Elas são também líderes em argumentar que a liberdade sexual e reprodutiva significa serem capazes de garantir que as crianças, as próprias ou outras, alcancem uma maturidade sólida com saúde e segurança em comunidades intactas. Haraway adverte, no entanto, que alimentação, trabalho, moradia, educação, possibilidade de viagem, comunidade, paz, controle do próprio corpo e privacidade, cuidados médicos, contracepção em condições corretas e favoráveis às mulheres, bem como a decisão final sobre o nascimento ou não de um bebê, são direitos cuja ausência em quase todo o mundo ainda é espantosa.
Trata-se, portanto, de colocar a vida no centro, mas assumindo que, além de sua exploração retórica, devemos criar os contextos para que todas as pessoas, como tantas vezes já repetiu Yayo Herrero, possam ter acesso aos recursos essenciais: água, energia, alimentação, moradia, abrigo, proteção social, saúde, educação e cultura. Ou seja, condições para que tomemos conta uns dos outros, em uma interseção entre movimentos ambientalistas, feministas, anticolonalistas e antirracistas, contra a narrativa que tentam nos impor as elites que veem ameaçada a possibilidade da acumulação ilimitada em suas mãos.
Como diz a mencionada autora Haraway, depois de deixar para trás o Antropoceno e o Capitaloceno, eras em que, para o bem ou para o mal, a espécie humana dominou a Terra de forma ilimitada e descontrolada, a vida no vindouro Chthuluceno exigirá pensar coletiva e inovadoramente a partir dos diferentes tipos de conhecimentos situados e experiências universais. Teremos que aprender a viver e morrer juntos em uma terra ferida e, com a confiança da mão estendida a todas as espécies, construir parentesco e cultivar “respons(h)abilidades” em comunidades de “composto orgânico”. Suas palavras podem trazer alguma luz para pensar o mundo após esta pandemia: “Uma maneira de viver e morrer bem, como seres mortais, é unir forças para reconstituir abrigos, para tornar possível uma parcial e robusta recuperação e recomposição biológica-cultural-política-tecnológica, que deve incluir o luto por perdas irreversíveis”.
- Amaia Pérez Orozco, Subversión feminista de la economía. Aportes para un debate sobre el conflicto capital-vida (Subversão feminista da economia. Contribuições para um debate sobre o conflito capital-vida). Traficantes de sueños, 2014.
- Silvia Federici, Calibán e a bruxa. Mulheres, corpos e acumulação primitiva, Editora Elefante, 2017.
- Paul B. Preciado, Um apartamento em Urano. Crônicas da travessia, Companhia das Letras, 2020.
- Inimigos do Estado? De como os governos e as empresas silenciam as pessoas defensoras da Terra e do meio ambiente
Global Witness, julho de 2020. - Kathi Weeks, The Problem with Work: Feminism, Marxism, Antiwork Politics, and Postwork Imaginaries (O problema com o trabalho: feminismo, marxismo, políticas antitrabalho e imaginários pós-trabalho), Duke University Press, 2011.
- Donna J. Haraway, Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene (Continuar com o problema: gerando parentesco no Chthulucene), Duke University Press, 2016.
Links relacionados
-
Santiago Eraso Beloki
Abril de 2021
